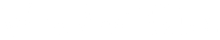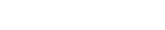Com Aznavour encerra-se um ciclo vital da canção francesa e da cultura europeia do pós-guerra. Mas, não por acaso, uma das últimas colaborações do criador de “La Bohème” foi com Isabelle Geffroy, Zaz, provavelmente a mais apaixonante descoberta musical francófona da última meia dúzia de anos. O testemunho está bem entregue, portanto. E o futuro da chanson também.
Sou já suficientemente antigo para me lembrar de quando a música francesa (tal como a italiana) ainda era, como agora se diz, fortemente "impactante" em Portugal e no mundo. Cresci quando o rock’n’roll (e a análoga versão lusa, o yé-yé) se afirmava em toda a parte e os Beatles determinavam o rumo da música popular que se fazia no mundo. Mas em Portugal essa realidade, como as outras, chegou mais devagar, e a influência francesa continuou a fazer-se sentir, mesmo quando a anglofonia começou a conquistar as preferências dos mais jovens.
Pela parte que me tocou, apanhei-os em boa altura. É que, embora fossem tempos cinzentos e fortemente reprimidos, havia sempre quem conseguisse iludir censores e polícias, e é assim que num dia do princípio da adolescência dou comigo a ouvir, em conspirativa reunião de catraiada, a mais proibida canção desse tempo – «Je t'aime… moi non plus», evidentemente, banida em pelo menos uma dúzia de países e demonizada pelo Vaticano – e a descobrir da maneira mais óbvia o génio provocador de Gainsbourg.
Ferré chega-me na mesma altura, aí por princípios de 70. A imensidão de «La Solitude» combinava com os psico-universos dos Pink Floyd, e a grandeza de «Il n'y a plus rien» não devia nada a qualquer sinfonia. Os discos e as gravações do Velho Leão passavam de orelha em orelha e de casa em casa, fazendo-se acompanhar por outros da mesma colheita e distinção: Brel, claro, e para sempre; e Brassens com ele; e Gréco, a deusa dos olhos mágicos.
E mais. Piaf, a petit-môme, claro que sim. E Montand. E Moustaki também. Já os da moda diziam-me pouco: Sylvie Vartan, Adamo ou Serge Lama não me tocavam nenhuma corda sensível, mas ouvia-os bastante, pela rádio. A Johnny Hallyday só comecei a dar crédito depois de o ver satirizar-se a si mesmo em «L'Aventure c'est l'Aventure» (um filme que ainda hoje me reconcilia com o cinema francês).
Outros fui descobrindo assim ou assado, ao sabor dos acasos ou das circunstâncias: a portentosa Catherine Ribeiro, o inesquecível Jacques Higelin, o improvável Maxime Le Forestier, o desconhecido Jean Falissard. E por aí fora, sem esquecer os grandes instrumentistas das várias franças, de Django Reinhardt e Stéphane Grappelli a Alan Stivell e Dan Ar Braz. Muitos e bons, afinal, feito o balanço geral dos anos passados. E ainda temos Zaz, para os que estão para vir.
Mas a alguns cheguei tarde: Gilbert Bécaud, conquistou-me num Coliseu literalmente electrizante, vão lá 30 e muitos anos, quando empiricamente percebi porque era chamado «senhor 100 mil watts»; a Charles Trenet, que é muito mais antigo do que todos os já citados, foi preciso ouvi-lo num filme de humor infantil que fui ver por vontade do meu filho então criança. Quem não se deixa encantar pelo ton d'époque de «La Mer»?
Estranhamente, dos mais tardios terá sido mesmo Charles Aznavour. Mesmo que tenha sido também, seguramente, dos primeiros que ouvi, pelo rádio, e vi, pela televisão – ainda no tempo em que os animais já não falavam, mas havia «conversas em família» ao serão.
Aznavour cantou e compôs durante mais de 75 anos. Atravessou por isso, a minha geração e a que a precedeu, e todas as que vieram depois de mim. Mas a verdade é que, por razões que nunca soube explicar, durante muito tempo as canções dele, cantadas por ele, não me eram particularmente tocantes.
Só comecei a dar-lhe a atenção devida e a seguir-lhe o rasto por motivos profissionais, quando escrevia regularmente sobre música e artistas. E era – e é – inevitável gostar dele, claro, e das canções que lhe deram fama e glória. Mesmo se, num caso ou noutro, isso aconteça também graças a outras vozes que deram corpo à música dele: «Tous les visages de l’amour» – «She» na popular versão em inglês – é um bom exemplo, com a superior recriação que dela fez Elvis Costello, mais de vinte anos depois da gravação original.
Foi já só neste século que tive finalmente a oportunidade de ver e ouvir Charles Aznavour ao vivo, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Já tinha passado os 80 anos, mas mantinha intacta a voz característica, o jeito suave, a presença em palco. E o talento. Nada que não se soubesse, mas que é sempre bom constatar.
Aznavour era um artista muito maior do que metro e sessenta que ostentava. Empenhado em causas humanitárias, nunca quis ser um cantor político – mas isso não o impedia de se posicionar, como quando apelou ao voto em Chirac para impedir Le Pen de chegar ao poder.
Numa entrevista recente dizia que não tinha qualquer vontade de «morrer no palco ou em nenhum outro lugar» e alimentava planos para cantar até aos 100 anos. Partiu aos 94, deixando para trás uma vida inteira de música, sobre a qual disse, dez anos atrás, em entrevista a Adelino Gomes: «Eu não vou abandonar a vida. A vida é que me vai abandonar».
Publicado em RTP Notícias - 3.10.2018