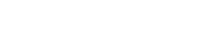Meu grande e muito querido camarada,
Já não me lembro de há quantos milhares de anos-luz nos conhecemos e construímos a nossa amizade, toda ela feita de afagos e cumplicidades, muitos risos e às vezes pouco siso, noites e dias de correrias, encontros, desencontros, e uma quantidade não despicienda de sonhos e outras bebedeiras.
Mas lembro-me de outras coisas. Por exemplo, de uma vez (há muitos anos, ainda no tempo em que os jornais falavam) em que te entrevistei, digamos assim, para um lugar de papel onde fui feliz. Já nessa altura éramos amigos, e então começámos a conversa em volta de um poema de Herberto que podia ser, e se calhar foi, feito para nós: "Amo devagar os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado. / Os amigos que enlouquecem e estão sentados, fechando os olhos, / com os livros atrás a arder para toda a eternidade." E nós fomos enlouquecendo, talvez, mas nunca deixámos que nos fechassem os olhos.
Noutra ocasião, a propósito de qualquer coisa ou a despropósito de nada, foste tu que me levaste à conversa, noite adentro, num velhinho estúdio do Quelhas, na RDP onde tu ainda trabalhavas e eu ainda não. "Búzio Ardente", era como se chamava o teu programa, feito com talento, e suor, e garra. Seguimos para lá depois de um jantarinho ali por perto, onde era suposto acertarmos o mote do que tínhamos para contar. Mas perdemo-nos, entretanto, noutras conversas, decilitragem metódica, e as moças em redor cujos olhares e sorrisos não regateávamos. Nesse tempo, em que a Rádio se fazia em directo e no arame – já não o das galenas, mas o da vida a preceito –, cada emissão tua era sempre uma aventura. Chegámos ao estúdio a poucos minutos de entrar no ar, arregimentaste uma mão-cheia de discos, e eu perguntei: "Então, afinal, vamos falar de quê?" Respondeste qualquer coisa que já não sei, talvez um "Deixa estar que logo se vê". Depois, alinhaste um vinil por sob a agulha, abriste o microfone, e disseste, em voz baixa: "Boa noite. É só para dizer que está cá gente." Seguiu-se a música, e a conversa desfiada ao sabor da paixão, e foi essa, enfim, a minha primeira grande lição de Rádio.
Lembrei-me deste nosso particular episódio aqui há dias, faltavam cinco minutos para a meia-noite de 24 para 25 deste Abril tão diferente dos outros, quando o telefone tocou, inesperadamente. Era outro amigo nosso, desses para toda a eternidade, também: Alberto Pimenta, poeta maior entre os maiores, homem dos que só nos acontecem por sorte grande. Ligava-me para soltar um grito – "Viva o 25 de Abril!" – e deixar uma esperança, ou um lamento: "Gostava tanto que houvesse quem se lembrasse de deitar um, ao menos um, foguete nesta noite! Só para sabermos que ainda há alguém, que não está tudo morto à nossa volta! Mas não vai haver..."
Embatuquei-me de comoção, que a tristeza dele era também a minha. E mais ainda quando, passada a meia-noite, a cidade permaneceu silenciosa e quieta. Até que, de repente – uns cinco, seis, sete minutos depois –, de repente ouvi, algures a norte ou a sul, não sei, o estralejar de uma pirotecnia avulsa. Liguei-lhe de volta: "Olha, afinal houve! Foi mesmo só um, mas houve. Ainda está cá gente!"
O poeta, que mora perto de mim – na geografia e ainda mais no coração, mas cuja casa dá para o outro lado da colina –, não tinha ouvido. Mas ficou tão contente, e eu com ele, que só por isso já valeu a pena aquele foguete solitário e anónimo, afinal de contas tão simbólico como o gesto do homem que, neste mesmo dia 25, às três da tarde, desafiou a solidão e o medo (e a ordem para ter medo) e desceu a Avenida, de bandeira portuguesa ao ombro e cravo vermelho na mão.
Tudo isto era para ser só duas palavras, apenas para dizer uma coisa que já sabes, mas que quero que os outros também saibam: que os teus Sinais diários têm sido um verdadeiro elixir, um tónico refrescante para a minha alma meio apagada por estes dias sombrios. A crónica de hoje, sobre Mia Couto e a receita dele para enfrentar o medo, comoveu-me até ao nó na garganta. A de ontem, a propósito do trumpolineiro das américas, conseguiu fazer-me sorrir – não porque o tema fosse engraçado, mas porque, como estas coisas não têm mesmo graça nenhuma, o riso é, as mais das vezes, mesmo a única maneira de afastar o susto medonho que isto tudo nos mete. E as outras, todas, são a dose matinal de poesia de que preciso, mais ainda do que do esomeprazol, para prevenir a azia do mundo.
És grande, companheiro. E é uma felicidade ter-te como amigo e camarada e mestre deste nosso frequentemente tão ingrato ofício. Ouço-te regularmente nas manhãs da TSF, porque gosto de ti, mas sobretudo porque me fazes bem. E é também isso que se espera da Rádio quando ela nos fala ao ouvido, seja para nos embalar, seja para nos acordar, como tu tantas vezes me acordas. Fazendo com que me sinta mais vivo e menos tristonho, e obrigando-me a acreditar que ainda é possível a esperança quando tudo isto arde.
Que não te cales, nunca, jamais. E que nunca te falte o tesão das palavras vivas que me ajudam, que nos ajudam, a enfrentar os dias todos, e mais ainda estes – sombrios, incertos, por vezes desesperados – que por agora nos couberam em (pouca) sorte.
Um dia destes, quando a peste passar, voltaremos a estar juntos e ao vivo, desta vez ainda mais. A dedilhar lembranças e galhofas, entre abraços e petiscos, dois ou três copos de tinto e um par de Bushmills. Sem gelo, que há coisas impossíveis de caldear sem fazer estrago.
E, agora, calo-me, e fico à escuta. Para te ouvir de novo, seja em directo como se fazia dantes ou online como só agora se pode, com a emoção de cada vez como se fosse a primeira. E é.
Lisboa, 28 de Abril de 2020